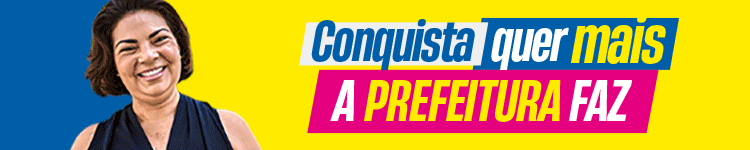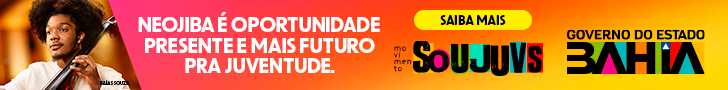“Estamos fazendo literatura e publicações de qualidade a partir da Bahia, a partir do Nordeste”, diz Jorge Augusto, professor da Uesb e ganhador do prêmio Jabuti Acadêmico

Jorge Augusto, docente da Uesb e vencedor do Prêmio Jabuti. Foto: Reprodução
O pesquisador e professor Jorge Augusto venceu o Prêmio Jabuti Acadêmico 2025 com o livro Modernismo Negro , publicado pela editora baiana independente Segundo Selo. A premiação é considerada um marco histórico: pela primeira vez, uma obra produzida na periferia de Salvador alcança o principal reconhecimento da literatura acadêmica no país.
O trabalho propõe um reposicionamento de Lima Barreto no panorama da literatura brasileira. Tradicionalmente classificado como “pré-modernista”, o autor é desenvolvido por Jorge Augusto como um negro modernista. A pesquisa examina como a obra de Barreto mantém a questão racial como estruturante e antecipa a discussão estética e discursiva que só muito mais tarde entrariam em evidências no campo literário.
Na entrevista, Jorge Augusto detalha os fundamentos dessa interpretação, analisa as razões históricas que levaram à exclusão de Barreto do cânone modernista e discute os efeitos desse processo na consolidação de uma narrativa nacional marcada pelo mito da democracia racial. O pesquisador também reflete sobre o papel da crítica literária, as dinâmicas do mercado editorial e os caminhos necessários para ampliar a presença de autores e autores negros na cena literária brasileira.
A Vitória do Jabuti também evidencia o percurso da Segundo Selo, editora independente sediada no bairro da Liberdade, em Salvador, que há mais de uma década publica obras de crítica, tradução e literatura com foco na produção intelectual negra. A premiação inseriu a editora em um circuito nacional de reconhecimento, reafirmando o alcance de iniciativas editoriais fora do eixo hegemônico Rio-São Paulo.
Na sequência, Jorge Augusto comenta sua pesquisa, os desafios da crítica literária no Brasil e o significado desse reconhecimento coletivo para a literatura negra. A íntegra da conversa está disponível no Spotify e em nosso site, acompanhada da transcrição completa logo abaixo do áudio.
Ane Xavier: Professor, a tradição literária brasileira classifica Lima Barreto como um pré-modernista. No entanto, sua tese de doutorado o reposiciona como modernista negro. Qual é a diferença fundamental entre o seu conceito de modernismo negro e o modernismo de 22, com nomes como Mário de Andrade, por exemplo?
Jorge Augusto: Quando a gente vai pensar o modernismo de 22, a gente está falando de um movimento empenhado basicamente em duas coisas: em produzir uma identidade nacional e em produzir a solução do problema da dependência cultural, né?
O que é a dependência cultural? A gente era, até o final do século XIX, um país colônia. Então, tinha uma dependência cultural muito grande de Portugal. Grandes críticos brasileiros chegaram a defender a ideia de que a literatura brasileira era um galho da literatura portuguesa, porque a gente era um país colonial. Isso era normal.
Então, o modernismo tomou para si a necessidade de encarar esses dois problemas, porque o Brasil, como república ex-escravocrata, pleiteava um lugar na modernidade. O Brasil queria fazer parte do concerto das nações modernas, queria se civilizar, na linguagem deles.
E quais foram as duas soluções que o modernismo achou? A primeira foi a produção de uma identidade nacional a partir da mestiçagem. No naturalismo, a mestiçagem era signo de algo negativo. Quando a gente lê O Cortiço ou O Mulato, a mestiçagem aparece como degenerescência, sobretudo para o branco. Misturar-se era perder as qualidades inatas de civilizado. Em certa medida, a mistura era considerada degeneração científica para todas as raças, se a gente pensar em Euclides da Cunha, por exemplo. A ideia era não se misturar em nenhuma dimensão. O que acontece no modernismo é a inversão dessa equação. Os modernistas paulistas passam a ver a mestiçagem como um valor positivo. Claro, isso não era suficiente porque vinha acompanhado de uma certa festividade que obliterava toda a violência por trás desse processo. Mas foi uma mudança radical. Não acho justo jogar isso na lata do lixo, porque foi um deslocamento importante.
A mestiçagem, que antes era vista como algo tenebroso, passa a ser o totem da nacionalidade, o signo maior do que nós somos enquanto povo. Até aí, não é uma mentira: nós somos mestiços. Olhe você, olhe eu, somos o mesmo povo. Só que o modernismo pinta essa mistura como apaziguada, cordial. O brasileiro vira o “homem cordial” e, a partir disso, há um modo de esconder a tensão racial que estruturava a sociedade. Ao esconder essa tensão, cria-se o mito da democracia racial. A ideia era que, por causa da mestiçagem, no Brasil todos seriam iguais. Então, uma diferença que era racial é tratada como se fosse inexistente. Pega-se o conceito de igualdade, que é de base econômica, e aplica-se ao campo racial. Isso gera uma mistura conceitual que visa esconder o que chamamos de tensão racial, de racismo, de continuidade da sociedade escravocrata no período republicano.
Essa é a passagem que o modernismo faz. No naturalismo, o subdesenvolvimento brasileiro era explicado pela raça: “O Brasil não era desenvolvido porque tinha muito preto”. Já no modernismo de 22, a explicação passa a ser a falta de tecnologia e de desenvolvimento econômico. Quando o Brasil continua não se desenvolvendo, quem passa a ser culpado? Os pobres. Já não se pode mais dizer: “Somos subdesenvolvidos porque temos muitos negros”, porque o regime de verdade mudou. O que fundamentava a ciência mudou: não era mais a raça, mas a razão, a racionalidade. Então se dizia: “O Brasil não é desenvolvido porque tem muito pobre”. Mas quem eram os pobres? Os negros recém-saídos da escravidão e não inseridos na sociedade de classes. Ou seja, o negro continuava sendo responsabilizado pelo subdesenvolvimento do país. Daí nascem a meritocracia e o mito da democracia racial.
O que Lima Barreto faz é totalmente contrário. Em todas as suas obras, ele mantém a tensão racial como estruturante. Em Policarpo Quaresma, ela aparece nos meandros; mas em Cemitério dos Vivos, Diário do Hospício, Clara dos Anjos, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, a raça media tudo de forma intensa.
Em Lima Barreto, não há festividade na mestiçagem. Ela existe, mas não significa culturalmente o mesmo que para os modernistas. No plano social, continua operando relações afetivas, econômicas, subjetivas. O racismo ordena o funcionamento social em sua obra.
Então, a diferença fundamental é essa: Lima Barreto não estava preocupado em produzir uma identidade nacional nem em superar a dependência cultural. Ele estava preocupado em mostrar que a pessoa negra é um ser humano. O projeto dele é de reontologização da pessoa negra: mostrar que ela tem subjetividade, cultura, história. Como [Lima Barreto] faz isso? Partindo do repertório cultural da população negra para construir sua obra.
Os modernistas de 22 dialogavam com as vanguardas europeias — futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo. Já Lima Barreto dialogava com o que vivia na periferia, com a produção material e cultural do cotidiano, que era majoritariamente negra. Ele reconhecia o repertório cultural da comunidade: a vizinha cuidando do filho da outra, o provérbio transmitido pela avó (“quem muito se abaixa mostra o rabo”), práticas culturais trazidas pelos africanos escravizados e mantidas nas periferias. Esse repertório negro nunca tinha sido incorporado pela literatura brasileira. Lima Barreto traz esse repertório para dentro de sua obra, produzindo subjetividade e reontologizando o sujeito negro. O sujeito negro se reconhecia naquele texto.
Ane Xavier: O senhor acha que as pessoas, pelo menos para contextualizar o nosso ouvinte, têm noção da dimensão da antecipação estético-discursiva de Lima Barreto?
Jorge Augusto: Não. Acho que não. Mas não tinha como ter, né?
Não tinha como ter porque o que a gente chama de estética, de forma literária, era justamente aquilo que negava a cultura negra. Por exemplo: alguns críticos diziam que Lima Barreto repetia muito as frases, que escrevia de forma ansiosa, voltando sempre a dizer o que já tinha dito. Na tradição ocidental, essa repetição, esse retorno, não é bem visto. É como se o texto não tivesse sido apurado linguisticamente. Só que há sentidos específicos para a repetição dentro das culturas negras. Ela é fundamento, ligada à dimensão cíclica do tempo e, no caso de Lima Barreto, principalmente à oralidade. Ele traz a língua informal para dentro do texto, coisa que a literatura canônica não fazia naquela época.
Dizer que a repetição empobrecia o texto era não entender que ela faz parte da estrutura da oralidade. Quando a gente fala, repete muito: volta ao ponto, repete palavras, às vezes frases inteiras, repete substantivos. Isso é da fala. Como ele queria escrever a partir de um conhecimento produzido nos territórios periféricos, partiu desse registro informal da língua, norteado pela oralidade e não pela norma culta. A crítica literária brasileira não trabalhava com essas noções. Por isso, nos livros didáticos, esse aspecto não foi discutido, e também não apareceu nas grandes pesquisas sobre Lima Barreto. E nós temos grandes pesquisas sobre ele — a minha não é a primeira. Existem várias, inclusive muito boas, antes e depois do século XXI: de Beatriz Resende, de Cuti, entre outros. São ótimos trabalhos.
Agora, o recorte que eu dou é diferente: compreender como Lima Barreto partiu especificamente do repertório da cultura negra, esse que se manteve e circulou nos territórios onde a cultura africana foi reposta no Brasil — congados, jongos, reinados, terreiros, periferias, favelas, comunidades, subúrbios. Esses são os lugares onde vivemos e colocamos esse saber em circulação.
Ane Xavier: Professor, o senhor argumenta que essa exclusão de Lima Barreto do cânone modernista foi intencional, uma engrenagem constitutiva do próprio movimento. Queria saber: o que essa exclusão revela sobre as relações de poder e a formação do cânone literário brasileiro?
Entrevistado: Olha, essa exclusão… a gente tá falando dela a partir de Lima Barreto, né? Mas poderia falar a partir de Maria Firmina, de Luiz Gama, de Carolina Maria… poderia falar de muita gente preta que foi excluída do cânone. No caso de Lima Barreto, é interessante porque ele escrevia no momento em que esse cânone começava a se fortalecer, a criar estruturas de consolidação — com a Academia Brasileira de Letras já fundada no Rio, com os jornais a todo vapor, com São Paulo crescendo efetivamente. Então, Lima Barreto estava no epicentro do momento em que a modernidade começava a se solidificar enquanto projeto político, econômico e social no Brasil. Ele é uma figura central para compreender esses processos. E o que norteia essa exclusão é o epistemicídio, primeiro, e o racismo, também primeiro.
A gente precisa falar disso sem muita pompa: o campo literário brasileiro é organizado a partir do racismo que estrutura a sociedade brasileira.
Como vemos esse racismo materializado no campo? Através da estrutura canônica — ou seja, da ausência de autores negros — e também do tipo de recepção que a crítica tradicional deu a esses livros. Obras de Lima Barreto, de Carolina Maria, são quase sempre lidas pela chave do documentarismo, da biografia, da crítica social, da resistência. Como se não tivessem uma dimensão criativa, experimental, disruptiva, que desafia a estética e a forma literária estabelecidas. Mas existe, sim, outro modo de apurar a linguagem, de trabalhar a forma, de experimentar. Esse outro modo dialoga com a cultura negra, e não com a tradição euro-ocidental. Isso não significa ausência de forma, mas outra tradição formal: a oral. Por exemplo, fala-se muito de concisão na tradição euro-ocidental, sobretudo depois das vanguardas. Aqui, a poesia concreta enfatizou a concisão. Mas várias expressões culturais negras também primam pela concisão: o jongo, o provérbio. Só que em outra dimensão. E existem outras formas que não seguem a concisão, como o rap. O rap conta histórias longas, pode durar dez minutos, mas segue regras formais específicas: o beat, a batida, o sample, a letra. Isso é forma.
Durante muito tempo se disse que literaturas negras não eram formais, que eram discursivas demais, textuais demais, “faladas demais”, e por isso não seriam literárias. Isso é mentira. O que acontece é que as formas textuais negras não foram valorizadas pela tradição ocidental. Assim, parecia que a literatura negra trabalhava em “não forma”. Mas não: ela dialogava com outra tradição formal, a da cultura negra, da África, da diáspora. Isso tudo colocou obras negras fora do cânone. E veja: não é crível que toda a crítica desconhecesse isso de forma tão ampla. Aí entra o que a Tatiane Pereira Muniz chama, na tese dela, de “ignorância estratégica”: você “não sabe” porque é conveniente não saber. Não cabe a mim absolver a crítica brasileira quando, ao não enxergar isso, foi racista. Cabe a mim fazer a crítica cultural disso — a metacrítica, a crítica da crítica. E há ainda o que o professor Henrique Freitas chama de “pilhagem epistêmica”: formas e saberes negros foram apropriados por tradições e autores brancos, sem citar, sem dialogar de forma horizontal. Isso é pilhagem, pilhagem epistêmica.
Ane Xavier: É isso que você fala na sua tese, das nomenclaturas e periodizações servirem como exclusão política, né?
Entrevistado: Exatamente.
Porque, veja: o que a gente chama de modernismo, romantismo, naturalismo, realismo, esses movimentos, que antes até se chamava de escolas literárias, são lidos, no senso comum e até numa crítica mal feita, como conjuntos de obras e autores que, em determinado período, compartilhavam temas e formas estéticas, modos de escrever e de pensar. Mas eu costumo dizer que esses movimentos são, na verdade, regimes epistêmicos de narração da nacionalidade. Do Romantismo em diante, todos eles estavam, de modo velado ou não, preocupados com a ideia de nação. Você pode até dizer que o Romantismo machadiano não estava, mas o texto mais forte sobre nacionalidade foi do próprio Machado de Assis, que escreveu sobre o compromisso dos autores em produzir um senso de pertencimento coletivo. Então, essas escolas, esses períodos, funcionam como regimes narrativos da nação.
E aí, quando se cria algo como o “pré-modernismo” para colocar Lima Barreto, o que acontece? Agrupam-se Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Augusto dos Anjos — só homens, veja — sob a etiqueta de “pré-modernistas”. E dizem que o que os liga é a “crítica social”.
Mas crítica social existe em qualquer forma literária, velada ou não. Porque quem faz a crítica é também a forma, não apenas o discurso. Então, é impossível não haver crítica dentro de uma estética.
Dizer que esses autores são apenas “crítica social” é muito pouco. A questão é: por que eles ficam no “pré” e não no “moderno”? Porque, se você coloca Lima Barreto dentro do modernismo de 22, como parte da crítica brasileira tentou fazer, você implode a narrativa que o modernismo quis fundar sobre a nação. Por exemplo: se Lima Barreto fosse considerado modernista de 22, formalmente ele poderia até se encaixar em alguns aspectos, mas discursivamente não. Porque o projeto modernista, fundado na ideia de mestiçagem, não se sustentaria com ele ali. Se Lima Barreto estivesse no modernismo, o mito da democracia racial seria impossível. Então, ele é excluído justamente para reservar essa narrativa discursiva de fundação da nação. E isso aconteceu também com Luiz Gama, com Maria Firmina, entre tantos outros.
Ane Xavier: A maior parte da obra de Lima Barreto foi redescoberta e publicada postumamente, né? Até Policarpo Quaresma ele precisou lançar com recursos próprios. O senhor acha que o mercado editorial melhorou de forma significativa para autores negros desde então, ou o autofinanciamento ainda é o caminho mais viável?
Jorge Augusto: Olha, o mercado editorial brasileiro mudou, mas isso não quer dizer que devamos festejar essa mudança como se tudo estivesse resolvido. Primeiro, é claro, é uma conquista: hoje pessoas negras podem publicar. Isso é possível. Mas ainda há um déficit enorme. Eu falo também como editor — sou consultor da Editora Segundo Selo e acompanho isso há mais de 12 anos. A demanda de pessoas negras querendo publicar é imensa, mas uma editora de pequeno porte não tem condições de absorver tudo. Então, a autopublicação continua existindo: ainda há autores negros que precisam pagar para lançar seus livros.
Outro ponto importante: entre o primeiro e o segundo governo Lula, naquele boom econômico do início dos anos 2000, surgiu algo inédito: as editoras negras. Elas absorveram parte dessa demanda, mas com uma estrutura precária: tiragens pequenas, quase nenhuma circulação nacional, divulgação limitada. Ou seja, publicavam os livros, mas não conseguiam distribuí-los de forma consistente, porque distribuição no Brasil é caríssima. O resultado é que muitas obras de autores negros ficavam restritas a pequenos territórios, dependentes da rede de amigos e de poucos leitores. Em seis meses, o livro já estava praticamente invisível.
Mais recentemente, vimos uma incorporação maior de autorias negras pelas grandes editoras. Isso se explica por dois fatores. O primeiro é político: hoje seria constrangedor montar uma mesa sobre raça só com pessoas brancas, ou discutir machismo só com homens, algo que sempre aconteceu no Brasil. A pressão social fez com que o mercado editorial se adaptasse. O segundo fator é econômico: uma parte da população negra, que acessou a universidade pelas cotas, passou a formar um nicho consumidor de livros. E esse público não vai comprar eternamente livros que nunca falam de sua realidade. Esse nicho pressionou o mercado.
É só observar: nos últimos 10 anos, traduzimos em massa teóricos negros como bell hooks ou Fanon — obras que já existiam há 30, 40 anos, mas que só chegaram ao Brasil quando se percebeu que havia demanda e lucro possível. A lógica não foi compromisso político, foi mercado.
E há ainda um terceiro movimento: as grandes editoras passaram a absorver autoras e autores negros que as pequenas editoras e a autopublicação sustentaram por décadas. Muitas vezes só quando esses autores já têm 60 ou 70 anos, já possuem público e reconhecimento. Mas publicar aquela autora jovem, inédita, da periferia, que precisa de um primeiro livro? Isso as grandes editoras ainda não fazem. Quem continua fazendo esse trabalho são as editoras negras, pequenas e comprometidas.
Portanto, sim, é verdade que hoje pessoas negras publicam muito mais do que antes. Mas essa verdade, sozinha, diz pouco. É preciso analisar as camadas desse processo: as mudanças existem, mas a desigualdade estrutural ainda é muito forte.
Ane Xavier: Antes dessa conversa, eu estava relendo uma entrevista sua ao A Tarde e achei interessante como o senhor, mesmo reconhecendo que sua vitória é um marco simbólico, alertou para a distância entre reconhecimento e transformação estrutural. Quais caminhos o senhor enxerga diante de tantos desafios?
Jorge Augusto: O caminho, Ane Xavier, é continuar fazendo. Não tem outro. Se você olhar a foto que saiu naquela reportagem, vai ver: eu pedi ao fotógrafo que me registrasse na frente de uma placa de “Proibido estacionar”. Nada é à toa para um poeta. Tudo é semiótica.
A mensagem é essa: não podemos estacionar, temos que seguir.
Ganhar o prêmio me deixou feliz, claro, mas ainda temos muito trabalho a fazer. Precisamos falar de muitos autores, travar muitas lutas. O prêmio deve fortalecer não a mim, mas a causa: a literatura negra ser tratada com respeito dentro da tradição literária brasileira. Esse trabalho já é feito há décadas por nomes como Edmilson de Almeida Pereira, Lêda Maria Martins, Muniz Sodré, entre tantos outros. O meu livro é apenas um ponto nessa rede. Que bom que foi premiado, mas o mais importante é que ele se some a esse movimento coletivo de trazer o repertório da cultura negra para dentro da literatura brasileira.
Ane Xavier: E como foi a recepção depois do Jabuti? O prêmio ganhou repercussão no eixo Sul-Sudeste?
Jorge Augusto: A recepção ficou muito restrita à Bahia. Dei muitas entrevistas aqui e a comemoração foi linda. As pessoas entenderam que não era apenas um prêmio individual, mas de uma coletividade que luta contra o genocídio da população negra, contra o feminicídio. Isso deu ao prêmio o sentido que eu gostaria de dar: de afirmação coletiva. Mas fora da Bahia não houve procura significativa. Apenas veículos que já tinham material pronto, como a Estado de Minas, que publicou uma entrevista feita antes do prêmio. Trato isso com naturalidade, porque esse é o modus operandi da crítica tradicional brasileira. Seria ingênuo esperar algo diferente.
Ane Xavier: Muniz Sodré escreveu que seu livro é "o mais original trabalho sobre o modernismo brasileiro" de que ele tem memória. Qual a importância de ter nomes como o dele, além de Leda Maria Martins e José Henrique de Freitas Santos, chancelando a sua pesquisa?
Jorge Augusto: Essa sensação… vou falar a verdade: quando Muniz Sodré respondeu ao meu e-mail, eu nunca tinha falado com ele. Escrevi: “Olha, eu gostaria que fosse o senhor, porque sem o senhor e sem a professora Leda esse trabalho não existiria”. Eu realmente acredito nisso. Minha tese não seria o que é, meu livro não seria o que é, sem o trabalho deles.
Foi o trabalho deles que me fez entender o que eu precisava fazer. Quando ele respondeu, mandou a orelha do livro e eu li, chorei horrores. Porque eu sou muito fã dele, gosto demais. Gosto do intelectual que ele é. Acho que a gente precisa desse tipo de intelectual que leva o pensamento a sério, as ideias a sério.
E a mesma coisa com Leda Maria. Quando ela me ligou dizendo: “Li seu livro agora”, eu fiquei eufórico em casa, porque sou fã. E ainda tem outro que não participou desse livro, mas cujo trabalho é fundamental para a literatura brasileira: Edmilson de Almeida Pereira. Ele é premiadíssimo, autor de obras importantes para pensarmos essa reposição da herança africana na cultura brasileira, a partir da literatura. É um querido, um colega fundamental. A gente precisa ler Edmilson cada vez mais.
Foi muito bom o retorno deles. O fato de terem aceitado participar do livro com o paratexto, depois de ler, já me deixou super feliz. É algo simbólico, de dizer: esse livro é nosso. Porque vocês dois e também meu orientador, Henrique Freitas — que pesquisa há muitos anos essa área, tem um grupo sobre a reposição da herança africana na literatura brasileira, o Yorubantu — fazem parte disso.
Henrique, junto com grupos como Razuras, Perifas e Poéticas Periféricas, da professora Silvana Carvalho na UFRB, que trabalha muito com hip-hop, contribui para esse campo. Então, quando eles disseram “sim”, Muniz, Leda e Henrique, que são os três autores do paratexto, eu me senti muito feliz. Porque sinto que o livro é fruto de um diálogo profundo entre nós quatro.
Honestamente, não teria como ser o que é sem esse diálogo coletivo. Para mim, essas três pessoas que assinam os paratextos são também autores do livro. Assim como essa rede maior de pesquisadores com quem dialogamos para construir a obra.
Ane Xavier: Seu livro foi publicado pela Segundo Selo, uma editora independente da Bahia. Qual o significado de uma editora com essa missão social conquistar o prêmio máximo da literatura acadêmica no país?
Jorge Augusto: Aí você pegou na fraqueza, Ane. Aí eu me empolgo. Eu acho que foi uma vitória estrondosa, sabe?
A gente é uma editora que funciona no Gengibirra, na Liberdade. Funciona na periferia. A gente nasceu lá, pensou essas coisas andando pelas ruas do maior bairro negro fora da África. Eu me emociono porque foi isso: a gente pensou, a gente decidiu fazer. E, nesses últimos anos, a gente vem colocando livros importantíssimos na rua.
Temos uma coleção chamada Das Pretas, publicada, editada e dirigida por mulheres negras. Já são 12 livros, e virão muitos mais. A gente tem formado editores negros. Temos traduções de Fanon e de livros sobre a revolução haitiana, feitas por César Sobrinho, que não existem em nenhum outro lugar do Brasil.
Teve um evento no Sudeste sobre Fanon, com todas as editoras que têm livros dele — e não nos chamaram, porque não estamos lá. Mas nós temos um Fanon no catálogo, traduzido de forma brilhante por César, num projeto dele que a gente abraçou.
Temos também a coleção Na Encruza, de crítica negra, só com livros fortíssimos, que mostram a multiplicidade do pensamento negro: afropessimista, ancestral, feminismo negro, mulherismo africano. Já são seis, sete livros e teremos mais. O Modernismo Negro faz parte dessa coleção.
Além disso, temos uma revista de literatura brasileira contemporânea, organizada por Conceição Evaristo, Lívia Natália, Marília Garcia, Rita Santana. São 12 números, não é um ou dois. Impressos, não virtuais. Um trabalho sólido de 12 anos, lançando mulheres negras, jovens negros, homens negros, senhoras negras que ficaram entusiasmadas em publicar seus textos.
Chegamos à final do Jabuti em 2022 com Tatiana Nascimento, com aquele livro sensacional Palavra Preta. Depois, em 2023, chegamos à final do Prêmio Oceanos com o fantástico Ricardo Aleixo, poeta imenso do Brasil. Em 2024 não enviamos livro. E em 2025 chegamos com Modernismo Negro — e ganhamos.
Ou seja, em quatro anos chegamos aos três finais maiores dos prêmios do Brasil, sendo uma editora de periferia, se matando para fazer livro.
É rodar um livro para pagar outro, sem investimento, sem editais, pagando do próprio bolso, do salário, porque são nesse projeto.
Então, é uma vitória enorme. Colocar o nome da Segundo Selo e da Organismo Editora na vitrine e dizer: “Estamos fazendo literatura e publicações de qualidade a partir da Bahia, a partir do Nordeste, do Brasil”.
Isso pra mim é muito forte, muito mesmo. Até me emocionei agora. A editora toca meu coração.
Ane Xavier: E se os leitores e ouvintes quiserem saber mais sobre a editora, como fazem para encontrar?
Jorge Augusto: